"Esses são princípios sem os quais nenhuma filosofia moral se sustenta": À conversa com António Marques
23 de Maio de 2023, 13:55

A propósito da Lição de Jubilação de António Marques, a NOVA FCSH conversou com o docente e investigador relativamente ao seu percurso académico e profissional.
Susana Cadilha e João Lemos (investigadores do IFILNOVA) questionaram também António Marques sobre o seu trabalho de investigação na área da Filosofia.
Poderia contar-nos um pouco a história da fundação do IFILNOVA (Instituto de Filosofia da NOVA) e o seu papel na fundação desta unidade de investigação?
AM: O IFILNOVA foi fundado como Instituto de Filosofia da Linguagem e ligado, não só à filosofia, mas também à teoria da comunicação. Logo desde o início, o IFILNOVA tentou aprofundar determinadas linhas de investigação, ligadas, evidentemente, à filosofia da linguagem numa perspetiva mais de filosofia analítica e filosofia moral e política. Durante alguns anos foi um instituto que teve uma atividade integrada no conjunto dos outros centros de investigação e depois passou a ser Instituto de Filosofia da NOVA, para precisamente acolher âmbitos mais alargados de investigação. Por isso, argumentação e linguagem, estética, teoria da cultura. Por conseguinte, várias áreas de investigação começaram a ser, digamos, desenvolvidas no Instituto.
Um aspeto importante, logo desde o início, enquanto ainda Instituto de Filosofia da Linguagem, foi que os institutos, e em particular este, da Faculdade passaram a ser financiados de uma forma mais sólida, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Isso permitiu realmente um salto no tipo de investigação que se fazia e, nomeadamente, aspeto fundamental, contratar investigadores e atribuir bolsas e esse foi o aspeto mais importante do início do IFILNOVA, foi contratar jovens investigadores que não estariam diretamente ligados à Faculdade.
Como vê a continuidade da investigação do IFILNOVA, assim como as oportunidades e desafios do Instituto, nos próximos tempos?
AM: Eu já há uns 3 anos que não estou no IFILNOVA em cargos de gestão. De qualquer modo, acompanhando a evolução do Instituto, parece-me que há uma mudança, mas que não diz só respeito ao IFILNOVA. Há uma mudança até no tipo de financiamento à investigação que vai ter efeitos, evidentemente, na investigação das Unidades de Investigação da NOVA FCSH. Penso que, cada vez mais, há uma relação do financiamento com fundos europeus e, por conseguinte, o acesso direto a esses fundos, sem passar necessariamente pela FCT, é crucial. Essa é uma mudança importante.
A qualidade da investigação no IFILNOVA acho que está celebrada. Houve, aqui há uns três anos, se não estou em erro, uma contratação por norma transitória. Houve uma contratação de investigadores por um prazo mais alargado, o que deu uma sensação de estabilidade muito importante para a investigação. Por conseguinte, o Instituto, assim como as outras Unidades de Investigação da Faculdade, deverá fazer o possível para manter, na medida do possível, esses investigadores que, evidentemente, continuam a trabalhar num quadro de uma certa precariedade. Foi realmente muito importante esse passo que se deu e, neste momento, há duas coisas que estão asseguradas, penso eu, no IFILNOVA: a renovação do ponto de vista dos recursos humanos para a investigação, por um lado, e, por outro lado, a internacionalização. Realmente, o IFILNOVA distinguiu-se na Faculdade por ser um dos centros, ou institutos, que tinha uma produção internacional maior e isso é atestado pelo facto de ter sido avaliado sempre com “Excelente” nas avaliações da FCT. Por isso, eu acho que há todas as condições para já ter uma velocidade de cruzeiro, digamos, o IFILNOVA continuar a ser um Instituto de excelência no quadro da Faculdade.
Excerto da conversa com o Prof. Doutor António Marques
Como antigo membro da Direção do Conselho Cientifico da NOVA FCSH, como descreveria a experiência e a aprendizagem da gestão de um Instituto de Ensino Superior?
AM: Fui por duas vezes Presidente do Conselho Científico e, se quisermos, eu distinguiria esses dois momentos, ou esses dois mandatos. O primeiro foi altamente desafiante. Nós estávamos a explorar uma espécie de terra incógnita, porque foi nessa altura que começaram os financiamentos à investigação. Isso mudou tudo no ambiente e no trabalho da Faculdade. Pela primeira vez, pôde pensar-se numa Faculdade orientada, em que havia, evidentemente, como atividade principal, a docência, mas também uma docência orientada para a investigação e com suporte na investigação. Foi aí que se começou realmente a ter financiamento visível. Até aí, o que os centros recebiam das entidades estatuais dava para pouco mais do que pagar o serviço do secretariado. Os livros que se iam adquirindo eram, geralmente, doações de entidades, como, por exemplo, a Fundação Calouste Gulbenkian, que tinha até aí um papel bastante importante. A partir do momento em que começam a chegar fundos europeus, e no quadro da reforma do Ministro Mariano Gago, que foi fundamental para construir um sistema científico em Portugal, a partir daí foi necessário criar as condições humanas, logísticas, etc., para que se pudessem construir centros de investigação semelhantes aos que existiam lá fora, com nível europeu. Uma coisa fundamental foi que também, nessa altura, começou a haver esse financiamento que esteve ligado, desde início, a uma avaliação internacional. Por conseguinte, todos os institutos da Faculdade começaram a ser avaliados por painéis internacionais. Isto significa que o conselho científico teve pela frente uma tarefa completamente diferente do que tinha tido até aí e isso foi algo muito desafiante. Desse mandato, tenho recordações ótimas e a colaboração entre o conselho científico, os institutos e os departamentos foi realmente algo bastante entusiasmante.
O segundo mandato foi bastante diferente. Não porque as nossas tarefas do conselho científico fossem menos importantes do ponto de vista institucional, mas porque nos deparámos com uma situação essencialmente burocrática, que foi a reforma de Bolonha. A reforma de Bolonha, de facto, exigiu um esforço enorme, do ponto de vista administrativo e burocrático, que nem sempre foi bem acolhido pela comunidade docente e investigadora da Faculdade. Mas era uma coisa que se tinha que fazer para que os nossos curricula e os curricula europeus criassem uma determinada uniformidade. Mas sim, foi um processo muito demoroso, muito burocrático e ocupou o centro dos nossos esforços no conselho científico. Por conseguinte, o meu segundo mandato foi bastante diferente do primeiro.
De qualquer modo, a investigação na Faculdade continuou com os institutos a produzir bastante bons resultados e as avaliações que decorreram nessa altura foram ótimas, do ponto de vista dos painéis que entretanto vinham à Faculdade.

Tendo estado em cargos distintos na NOVA FCSH e conhecendo tão bem a Instituição, quais considera serem os valores fundamentais desta casa e aquilo que distingue a NOVA FCSH de outras instituições de ensino superior, nas áreas das ciências sociais, artes e humanidades.
AM: Eu acho que aquilo que distinguiu e deve continuar a distinguir a Faculdade é o espírito de inovação. Pela primeira vez, esta Faculdade teve áreas de investigação e de ensino que não havia noutras Faculdades. Lembro-me, por exemplo, das Ciências Musicais e das Ciências da Comunicação. Duas áreas em que esta Faculdade foi pioneira, digamos assim. Isso, por um lado, a inovação em termos de áreas científicas. Um outro aspeto importante foi a internacionalização. Ou seja, se quisermos, foi sobretudo a investigação que permitiu estabelecer conexões internacionais com outras instituições de excelência e prestígio que, até aí, não era possível termos, pelo menos, desenvolver essas relações de um ponto de vista mais sistemático e mais coerente. Por conseguinte, inovação e internacionalização. Acho que são dois pontos que distinguiram e devem continuar a distinguir esta Faculdade.
António Marques aborda os valores fundamentais da NOVA FCSH enquanto instituição de ensino superior
E agora, provavelmente, o que a NOVA FCSH também deve, se quisermos, ter como objetivo é fazer com que o ensino sofra dos efeitos positivos da investigação e que a investigação também se transfira o mais possível para dentro dos departamentos. Porque, num primeiro momento de desenvolvimento da investigação na Faculdade, é natural que houvesse uma certa compartimentação entre os departamentos mais ligados a docência e os institutos mais ligados à investigação – essa compartimentação deve na medida do possível deixar de existir.
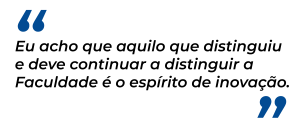
Quais são as palavras que gostaria de deixar aos próximos docentes do Departamento de Filosofia e aos investigadores do IFILNOVA?
AM: Só posso desejar que, tanto os docentes como os alunos, tenham uma motivação genuína pela filosofia, que explorem e aprofundem estas linhas da inovação e da internacionalização e que haja imaginação na construção de projetos que possam ser apresentados. Que sejam competitivos no ponto de vista internacional e do ponto de vista europeu e, por conseguinte, não deixar que as linhas essenciais com que o instituto começou esmoreçam.
António Marques expressa os seus desejos para o futuro do IFILNOVA
João Lemos: Foi tradutor da terceira Crítica de Kant e escreveu um livro sobre o conceito de sistema e de teleologia que incide na segunda metade da obra. No entanto toda a primeira parte é dedicada por Kant à problemática da estética. Qual é o papel da estética (e em que é que difere do da teleologia) na Crítica da Faculdade do Juízo e no inteiro sistema crítico de Kant?
AM: Bem, teremos de ver, em primeiro lugar, o que pode justificar da parte de Kant a junção, na mesma obra, do problema da teleologia à questão estética. Têm existido diferentes interpretações desde a publicação da terceira Crítica até hoje. Acho que o facto mais importante é que, a seus olhos, faltava nas duas críticas anteriores (da Razão Pura e da Razão Prática) uma consideração mais ampla de um dos elementos do binómio ser humano-natureza. Na terceira Crítica é a representação da natureza que se transforma substancialmente.
O ser humano relaciona-se com a natureza sob várias formas, mas a que lhe interessa, sobretudo, é a relação mediada pelo juízo: este é o verdadeiro mediador e a verdade é que nas duas anteriores obras, Kant havia considerado quase exclusivamente uma forma do juízo a que ele chamou “determinante”. Neste, o sujeito como que “impõe” à natureza uma ordem, uma regra ou conjunto de regras. Na Crítica da Razão Pura essas regras são as nossas categorias, por exemplo a causalidade, a modalidade, etc. No entanto, essa imposição de regras (que são afinal as nossas regras!) tinha como consequência a fixação de uma natureza “presa” nas nossas formas subjetivas, como uma espécie de objeto destinado à mera “objetificação”, passo a redundância. Na terceira Crítica, Kant quer colocar-se numa outra perspetiva: a natureza não pode ser ajuizada como mero objeto capturado pelas nossas categorias, pelo contrário é necessário representá-la como natureza livre que tende a escapar às formas subjetivas do sujeito. Com estas compreendemos e até manipulamos a natureza, enquanto objeto físico. Porém, na terceira Crítica, o que lhe vai interessar é uma natureza livre e, nesse sentido, vai introduzir aquilo a que chamaria o seu novo potencial: uma força estética disruptiva em relação aos conceitos do nosso entendimento. Contudo, é convicção de Kant que esse potencial da natureza não existe separado do juízo, neste caso juízo estético. Por isso, em Kant, não podemos falar em estética, sem juízo estético ou separada do juízo estético.
JL: Como é que a terceira Crítica poderá ajudar a pensar relações entre estética e ética?
AM: Essa é uma questão difícil, muito ampla e temos a sensação que contra qualquer argumentação a favor ou contra uma proximidade entre os dois domínios, é sempre possível apresentar um sem número de contra-exemplos. A experiência estética, à partida, parece indicar que aquele que tem uma relação especial com o belo também estará mais próximo do bem. Aliás, o próprio Kant afirmou que o belo é símbolo do bem. Mas quantas vezes verificamos, ao longo da história, que autores de obras de grande valor estético cultivaram opções ética e politicamente deploráveis? Será que a experiência estética nos torna melhores do ponto de vista ético? Há razões empíricas para sermos céticos a esse respeito. No entanto, acho que, se retomarmos o sentido original do juízo estético em Kant, é possível, senão uma solução para o problema, pelo menos identificar um ponto de vista satisfatório. Lembremo-nos que no juízo estético aquilo que faço é “exigir” que o outro desenvolva um sentimento de comprazimento, de experimentar prazer com os outros. No entanto, essa exigência não tem em si o significado de uma norma que, se não for obedecida, teria como consequência uma penalização, como se se tratasse de uma espécie de norma jurídica. Essa nossa exigência estética é, pelo contrário, aberta e ideal. Ela conduz mesmo à imagem ideal de uma comunidade estética. Posso, por exemplo, imaginar uma comunidade ideal de admiradores das sonatas de Bach ou do Guernica de Picasso, posso mesmo atribuir a essas obras um valor estético universal, mas não terá sentido definir qualquer tipo de sanção para quem discorde dessa universalidade por nós proclamada, ou não se envolva no mesmo tipo de comprazimento. Esta convicção de partilha do universal é, num certo sentido, uma convicção wittgensteiniana, ou seja, não existem experiências estéticas privadas, assim como não há linguagens privadas..
Agora, a ética, ou melhor, o juízo ético tem, a meu ver, características semelhantes: ele tende a ser universal, assenta em regras que idealmente também conduzem à representação de uma comunidade ideal. Kant chamou-lhe “reino dos fins”. Também neste caso a transgressão da regra ética não implica uma sanção externa, mas quando muito uma censura social ou do próprio sujeito sobre si mesmo. A implicação de uma sanção externa já nos levaria para o campo do direito, mas não acho que devamos fazer coincidir a ética com o direito, apesar das evidentes articulações (pace os positivismos jurídicos). Assim, ambas as experiências, a estética e a ética, são maximamente comunitárias, idealmente universais e não envolvem sanções externas. Esta é a forma como vejo uma aproximação, mesmo que não totalmente clara, entre os dois domínios.
JL: Existe normatividade estética? Se não, porquê? Se sim, em que consiste e qual a sua relação com a normatividade moral?
AM: Em parte, a resposta foi dada na questão anterior, mas posso acrescentar algo. Se aceitarmos que aquilo a que chamamos experiência estética é, como penso ser o que defende Kant, universalmente comunicável, então deve aí existir uma constituição de regras, uma “legislação”. Por outras palavras, o que é “universalmente comunicável” supõe um certo tipo de normatividade. É um tema bastante obscuro, mas penso que esta qualidade do juízo estético tem a ver com a passagem de uma fruição estética comunitária para um (mais uma vez) comprazimento supra-comunitário. Por exemplo, as cantatas de Bach foram produzidas e fruídas pela comunidade protestante da primeira metade do século XVIII, mas ultrapassam inteiramente essa comunidade num processo de comunicabilidade universal.
O que poderia contar aqui como alternativa? Aquilo que poderíamos designar de emotivismo estético? Uma mera reação emocional à obra de arte? Sem dúvida que a experiência estética não pode ser vista como um fenómeno meramente intelectual e certamente envolve uma miríade de sentimentos, afetos, mais ou menos intensos. Por isso, Kant se referia a ela justamente como um “comprazimento”, mas ele também afirma que este nasce de um jogo livre entre imaginação e intelecto. Em suma, acho que a fruição estética começa por ser comunitária, mas adquire um valor supra-comunitário e que esta qualidade não seria possível sem uma dimensão normativa.
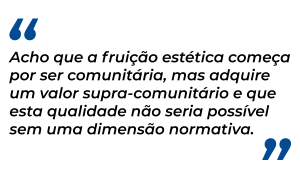
Diria ainda que o reconhecimento de uma certa normatividade na experiência estética existe nos estudos sobre arte primitiva, por exemplo do grande antropólogo Franz Boas. Ele nota que na arte dos povos primitivos, o elemento estético essencial é a forma: são sempre princípios formais que estão na base da fruição estética. Ora, estes princípios são culturalmente cumulativos e incluem certamente um aspeto normativo.
Susana Cadilho: A normatividade, nas suas várias dimensões, é o ponto focal do seu vasto percurso filosófico. Nesse sentido, considera que é possível estabelecer algum tipo de relação entre os dois domínios da filosofia prática a que tem vindo a dedicar atenção – a (filosofia) moral e a (filosofia) política – ou estes devem ser considerados como perfeitamente autónomos?
AM: A relação entre ética e política talvez seja o problema mais difícil da filosofia moral e política. Do meu ponto de vista, se quisermos esclarecer essa relação, teremos que acrescentar a esse binómio o direito, pois este é, nas nossas sociedades, a principal fonte de legitimidade racional da ação humana. Não quero generalizar demasiadamente e simplificar uma interpretação histórica que é sempre controversa. No entanto, for the sake of the discussion, diria que o problema dessa relação aparece com contornos nítidos na modernidade, desde, pelo menos, o século XVI. É então que as esferas da normatividade moral, política e jurídica se separam dramaticamente. Isso não quer dizer que parte importante da filosofia contemporânea aceite essa separação de esferas normativas. Hoje em dia, quer filósofos próximos de Hegel, quer sob a influência de Nietzsche, por exemplo, rejeitam que as fontes de legitimidade da ação moral e política se encontrem em domínios separados. São tipicamente filosofias da origem, entendida esta num plano metafísico ou mesmo mítico. No entanto a nossa própria experiência não vai nesse sentido, e ainda bem que assim é, pois os programas políticos que partiram de uma fusão entre diferentes tipos de normatividade tiveram resultados catastróficos, como sabemos, em particular no século passado. É por isso que penso que é irreversível aquela separação normativa. Nesta linha, alguns pensam que é com Maquiavel (1469-1527) que a moral se separa para sempre da política, mas eu acho que o autor aqui decisivo é Hobbes (1588- 1671). Porquê? Porque é o filósofo que coloca a legitimidade política numa instância de soberania, para a qual os indivíduos voluntariamente transferem parte substancial dos seus direitos naturais. Essa transferência é voluntária e tem como objetivo a preservação da vida e integridade física de cada indivíduo, o que nunca estaria garantido antes desse poder soberano ser constituído. Em minha opinião, é esta atitude contratualista da modernidade que separa as esferas de normatividade existentes nas nossas sociedades. A decisão política que está na base dessa transferência nada tem de moral, é puramente da esfera do político. Assim se forma aquilo a que Hobbes, tal como outros filósofos que partilham basicamente esta solução, chama uma sociedade civil que protege os cidadãos por meio de uma normatividade jurídica e política dela emanada, mas que se distancia completamente da sua vida ética. A vida ética passa assim a regulamentar “apenas” o domínio do privado, sem envolver sanções de tipo jurídico. Porém, aqui surge um paradoxo: se é verdade que a ação política não se subordina a uma normatividade ética, ela também não deve contrariar certas regras éticas sob pena de cair em descrédito. Diria que a política não é a moral, mas que a sua prática no espaço público não pode violar claramente princípios morais. Sublinho aqui a expressão “espaço público”.

SC: Estaria de acordo com a ideia de que, em ética, aquilo que se procura definir, alcançar, identificar é o valor absoluto?
AM: Realmente, a linguagem da ética aponta, em certa medida, para um absolutismo, em particular do juízo ético. Quando dizemos que uma ação é boa moralmente, não queremos significar que ela é boa em certas circunstâncias e não noutras, mas que é boa independentemente da circunstância. Acho também que intuitivamente sentimos que introduzir o consequencialismo nos nossos juízos mina, de certo modo, o valor moral do juízo, quando, por exemplo, avaliamos o valor da ação pelas suas consequências. E, no entanto, sabemos que grande parte das nossas vidas decorre num ambiente consequencialista: tomamos esta ou aquela decisão, não porque seja absolutamente boa, mas porque é a que produz melhores (ou menos maus) efeitos. No entanto, isso não quer dizer que não exista, na nossa experiência ética, uma espécie de reduto de valores absolutos. Aqui diria também que esse reduto não é privado, mas que é de algum modo cultural e comunitário. A linguagem dos direitos humanos ou fundamentais é, a meu ver, a demonstração que não só é possível como necessário que os indivíduos e as sociedades reconheçam um núcleo de deveres e direitos de valor absoluto ou tendencialmente absoluto. Estamos a falar em regras que estabelecem deveres e razão para a ação. É fácil ver como novos problemas como as migrações, a crise climática ou a desenfreada exploração do planeta acordam nos indivíduos e no sentimento coletivo essa consciência de um reduto de valores tendencialmente absolutos.
SC: Que papel atribui à racionalidade nessa busca? Considera o projeto de tentar justificar racionalmente a ética um empreendimento exequível e fecundo?
AM: A racionalidade é o pressuposto da ação eticamente qualificada. Ou seja, um sistema de normas, sejam éticas ou jurídicas, parte da ideia que os atores são racionais e razoáveis, como diria John Rawls, e que possuem um forte interesse pelo bem comum. Pressupõe-se também que cada um é capaz de tomar decisões segundo o seu melhor juízo. Esses são princípios sem os quais nenhuma filosofia moral se sustenta. O que não quer dizer que não existam correntes filosóficas e autores importantes da filosofia contemporânea que ponham em causa aquilo a que chamamos racionalidade do ser humano e vejam nesta uma estrutura superficial, um artefacto, cuja génese (genealogia) se encontra numa história natural da espécie humana. Assim, a racionalidade deve ser entendida, como efeito e não como causa; mais ainda como uma estrutura gerada pelas sociedades que visa o domínio ou a manipulação do homem pelo homem. Esta perspetiva, que geralmente se associa às obras de Nietzsche, Marx e Freud (e mais recentemente de Michel Foucault), é de importância crucial, se queremos argumentar a favor da perspetiva contrária, ou seja a favor do facto de que a razão tem a sua história, mas uma história que também devemos associar a processos de emancipação e de autonomia. Acho que aquilo a que chamamos razão humana tem igualmente um lado emancipador, crítico e mesmo libertário, no sentido de Stuart Mill. É esse que valorizo, sem deixar de olhar para o seu lado obscuro.

António Marques irá proferir a sua Lição de Jubilação no dia 29 de maio de 2023 pelas 18h no Auditório da Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa. A inscrição poderá ser realizada aqui.
